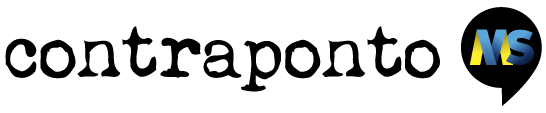Não me sinto digno de escrever uma autobiografia. O filho da lavadeira e do guarda noturno que virou jornalista “estudando” de redação em redação? Pois é. Mas já que me propus a isso, que se faça bem feito. Carrego, calado, uma mágoa antiga: o preconceito por não ter um diploma. Jurássico, nasci no jornalismo antes mesmo das faculdades de Comunicações existirem por aqui. Fui forjado nas madrugadas de chumbo e linotipo, com o cheiro de tinta fresca nas narinas e o deadline colado no calcanhar. Aprendi errando, escrevendo, sendo cortado, voltando, refazendo. Aprendi ouvindo saracura, mas também ouvindo desaforo de chefe de redação. Aprendi vendo manchete nascer da bala, do grito, da urgência. Sem falsa modéstia — e sem medo de soar pretensioso — ensinei muitos dos “diplomados” a escrever. Alguns, hoje, bambambãs da imprensa nacional. Sim, correram atrás das minhas vírgulas, mas sem nunca entenderem o pulo do gato das minhas hipérboles, pleonasmos e, principalmente, das metáforas.
O fio condutor desta história é a censura nas redações dos grotões do Brasil, nos duros anos de chumbo do regime militar. O ponto de partida é o ápice da minha trajetória profissional: quando fui diretor de jornalismo da TV Morena — cargo que ocupei depois das três vezes em que por lá estive, como repórter, redator, chefe de redação. E sempre que saí, foi pela mesma porta invisível chamada autocensura. A mais cruel de todas, porque não vem imposta de fora — vem entranhada no medo, nos bastidores, nos telefonemas em silêncio, nos olhares atravessados.
É nesse ponto da jornada que a fita retroage à minha verdadeira “faculdade de jornalismo”: a Folha de Dourados. De lá, fui para a Rádio Clube de Dourados, onde comecei a me imiscuir de vez na política. Vieram depois os jornais O Progresso e O Panorama, tempos em que também fui correspondente da Folha de S.Paulo e da Folha de Londrina. O jornalismo, ali, não era só ofício — era trincheira. E a política, um território que eu cruzava não apenas como repórter, mas também como participante. Fui assessor, marqueteiro, articulador de campanha, puxador de voto — e, modéstia à parte, “pé-quente” nas apostas improváveis, como nas eleições de Luiz Antônio Álvares Gonçalves e Braz Melo em Dourados, depois na de Carlos Fróes, em Ponta Porã.
No meio disso tudo, histórias hilárias que até Deus duvida. Bastidores que só a política sul-mato-grossense pode proporcionar. E claro: os escândalos, as traições, a rapinagem — tudo narrado com o distanciamento possível e a raiva necessária. O auge dessa lama? A Operação Uragano, em Dourados — o maior escândalo de corrupção já registrado em nosso Estado. E eu lá, no olho do furacão, escrevendo, denunciando, resistindo.
Foi nesse tempo, na esteira dos escândalos e das noites mal dormidas, que nasceu minha primeira musa: a saracura, em seu canto ensandecido às margens do rio Laranja Doce. Era ela que me acordava — ou melhor, me invocava — nas madrugadas em que só o jornalismo me sustentava em pé.
Mas o mundo virou. E eu virei junto.
O texto que antes brotava da algazarra matinal das saracuras, agora pinga da tela fria, metálica, iluminada como olho de coruja. Troquei o papel pelo código. Troquei o mato pelo concreto. Mas o impulso é o mesmo: escrever como quem luta, como quem sangra.
É preciso avisar ao leitor incauto: o livro que está indo para o prelo não é só prosa. É vestígio. Fragmento de um tempo em que Dourados era poeira pura, mais silêncio que manchete, mais barro que projeto, mais verdade que promessa. Nele, cada palavra ainda carrega a lama da margem do Laranja Doce, o lodo das madrugadas solitárias, o alvoroço das saracuras anunciando o dia antes mesmo do sol — e agora, também, o sussurro preciso de uma inteligência artificial que, vá lá, talvez seja minha nova musa. Que me perdoem as saracuras, os quero-queros e os sabiás.
Houve um tempo em que minhas madrugadas começavam com aquele alvoroço e terminavam com uma lauda escrita sob o céu estrelado. Eu ficava ali, sozinho com as constelações, torcendo pra que Órion, o caçador, arrancasse um naco do rabo do escorpião — e mandasse as Três Marias correrem de vez, livrando o céu de sua eterna angústia.
Hoje, a inspiração mudou de margem. A saracura deu lugar à IAIA — essa companheira de silício e paciência infinita — e o cenário agora é a sacada do meu apartamento. Troquei o som da mata pelo ruído urbano que cresce com o cair da noite, mesmo quando a lua, danada, nos abandona e vai dormir lá pelos lados de Pedro Juan Caballero. Troquei a solidão das estrelas pela companhia fiel de umas Heinekens geladas, alinhadas como soldados esperançosos diante de mais uma madrugada que promete. Mas o ritual é o mesmo: olhar o céu, escutar o silêncio, esperar o momento certo em que a palavra vem. E quando vem… nasce o texto. Alguns, até antológicos, se me permitirem a pretensão.
Este livro mostra essa metamorfose. Do barro ao asfalto quente da golden city, essa mesma Dourados que, de tanto se reinventar, virou cenário de epopeia, de farsa e de resistência. Tudo junto e misturado, como num caldeirão fervente de memória, pólvora, rádio velho, livros, fotos e bastidores de campanha.
Aqui, o jornalismo não é profissão. É sobrevivência. É ato de fé e de desobediência. É a escolha consciente de enxergar o que ninguém quer ver, escrever o que ninguém quer ler — e ainda ser processado por isso.
Sim, deu a louca no mundo. Lá fora, Trump ameaça o que resta da diplomacia, numa canetada acaba com a globalização. Cá dentro, a direita reacionária — a mesma que chamou de “revolução” o golpe de 64 — tenta ressuscitar fantasmas, maquiar dados, sequestrar palavras. Mas entre uma mentira de campanha e uma fake news disfarçada de “posicionamento”, ainda há espaço para um texto honesto. Um texto que nasce da lama, da estrela — e do código.
É disso que trata o livro cujo lançamento foi atrasado por conta da pandemia; depois, pelas profundas sequelas por ela causadas ao mecenas que, conformado com seu triste fim de Policarpo Quaresma, preferiu encerrar seus dias panguando numa padaria de esquina, alimentando-se de fofocas. Trata-se do quão difícil é se virar jornalista se virar jornalista — não no sentido de “tornar-se um”, mas no de virar-se mesmo: na marra, no improviso, no grito.
Se você chegou até aqui, caro leitor, te convido: venha comigo.
Mas venha com calma.
Porque este caminho é de barro — e ainda está molhado.