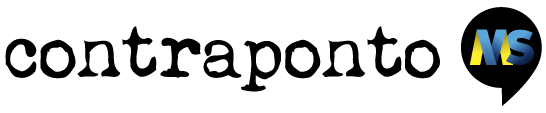Na campanha do ano passado, uma justificativa recorrente de eleitores que se diziam arrependidos no voto a Joe Biden em 2020 e agora apostavam em uma segunda temporada de Donald Trump na Casa Branca era a certeza de um futuro com os EUA ausentes de guerras “em países que nem sabemos direito onde ficam”. O então candidato à Presidência pelo Partido Republicano repetiu, nos comícios na reta final da disputa, a mesma, e falsa, afirmação: “Comigo, não teve guerra. Nos últimos 72 anos, fui o único presidente que governou em paz.” A razão, dizia, sem dar sequer uma piscadela, devia-se ao talento de exímio negociador e à sua autoridade. Argumentava ter sido a debilidade de governos anteriores, inclusive física e cognitiva, no caso de seu antecessor, que empurrara gerações de jovens americanos e bilhões de dólares não investidos no país, para “Ucrânia, Oriente Médio e o Afeganistão”.
Seis meses após ser novamente eleito para, entre outras complexas tarefas, comandar as Forças Armadas americanas, Trump pesa a decisão de colocar os EUA uma vez mais no centro de uma guerra travada do outro lado do planeta. E não é má-fé ou cinismo anabolizado atestar que a Casa Branca se preocupa neste momento muito mais com o custo político interno de um eventual protagonismo americano no conflito do que em como o movimento afetará o já complexo tabuleiro geopolítico global ou mesmo em como poderá salvar vidas se entrar em ação em busca de um eventual desfecho mais ágil para o enfrentamento de Israel com o Irã.
Trump prometera nos palanques americanos resolver a guerra na Ucrânia “em 24 horas”. Garantira ter tamanho poder de influência sobre o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que o horror na Faixa de Gaza também estava com os dias contados. Observou os dois conflitos com lógica de negociante. Até o momento, arrancou de Kiev um acordo de uso de terras raras, vendido internamente como “recuperação do dinheiro dado por Biden a troco de nada”. E propagandeou a transformação do enclave no Oriente Médio em resort de luxo com os palestinos exilados para o outro lado da fronteira. As carnificinas seguem, mas sem envolvimento direto de Washington.
Trump tem mantido o mesmo roteiro nos três conflitos internacionais mais cruciais para sua segunda Presidência até o momento. Entra em cena no papel de mediador mais qualificado, personagem vendido com êxito aos eleitores em casa. Em seguida, abraça o lado percebido como mais forte, com desdém por filigranas éticas inerentes à diplomacia. Errático, apresenta, de forma bombástica, propostas inusitadas. E, na primeira reviravolta imposta pela realidade, revela outro de seus traços mais característicos: a impaciência. É quando ameaça voltar para o próximo ato na pele de Pilatos e lembra que essas, “não são, afinal, nossas guerras”.
Bombardear o Irã e destruir de uma vez por todas seu programa nuclear, algo que Israel é incapaz de fazer sozinho, alteraria decisivamente o enredo. Se ainda é esticar muito a corda ir além das ameaças verbais ao aiatolá Ali Khamenei e se engajar de fato em uma mudança de regime em Teerã, a participação direta dos EUA no conflito já aliena os extremos do Maga (sigla em inglês para Faça os EUA Grandes Novamente, slogan trumpista). A mera possibilidade de ação causou um racha na base trumpista, nas ruas e no Congresso.
Figuras de destaque do universo dos “EUA em primeiro lugar”, como o ex-jornalista da Fox Tucker Carlson, afirmam que a entrada dos EUA no conflito se traduz como “traição”. Foi em seu podcast que o arauto da extrema direita Steve Bannon profetizou: “Trump, com um gesto, implodirá sua coalizão.” Elimina-se, justificam os dois, uma das premissas da pureza populista da extrema direita ianque, a de não gastar dólares com quem importa menos em sua hierarquia de vidas humanas.
Menos histriônicos, um punhado de deputados republicanos já se une a democratas na tentativa de aprovação de uma lei — com poucas chances de ir adiante no Senado — que determinaria obrigatoriedade de aprovação do Legislativo para ações militares dos EUA fora do país. A medida avançaria sobre lei já existente ao deixar claro que qualquer bombardeio, mesmo que cirúrgico contra um indivíduo ou instalação (nuclear, no caso do Irã), já significa entrar em guerra. A movimentação na Câmara Baixa do Legislativo é relevante por ser o primeiro desafio interno público à autoridade de Trump em seu segundo mandato. O presidente, que segue afirmando não saber ainda “se vou ou não vou” atacar o Irã, precisará elaborar, no caso de uma ação militar no Irã, justificativa capaz de amansar aliados e o grupo de eleitores além-Maga interessado em seu discurso isolacionista.
Quadros de destaque do Partido Republicano, inclusive de dentro da Casa Branca, já refutam reservadamente a ideia de que bombardear com precisão o aparato nuclear iraniano não significaria uma entrada per se no conflito com motivos retirados da própria Inteligência do governo — a reação do outro lado poderia vir com ações terroristas, inclusive dentro dos EUA, que já vive onda de violência política, e com reféns americanos no Irã, como nos primeiros anos da República Islâmica, no governo de Jimmy Carter, do Partido Democrata, fator decisivo para sua derrota para Ronald Reagan nas urnas.
Importa menos aos isolacionistas de direita o fato de a premissa antiguerra usada por Trump na campanha eleitoral americana não sobreviver aos fatos. Números oficiais registram 65 soldados americanos mortos em batalhas conta os terroristas do Estado Islâmico no Iraque e na Síria durante o primeiro mandato do republicano. E foi ele quem autorizou o assassinato do general Qasem Soleimani, que comandava uma das principais forças da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, em janeiro de 2020. Há os que dizem serem conflitos herdados por outros governos, e Trump pode usar o mesmo subterfúgio para aplacar a ira de sua base no caso de bater o martelo por um ataque ao Irã. Inevitável mesmo será escapar da ironia histórica.
Foi justamente no governo Carter que os EUA não só não declararam guerra a nenhum país como, de acordo com os números das próprias Forças Armadas, nenhum soldado americano perdeu a vida em conflito. Durante, mas especialmente após deixar a Casa Branca, o sulista democrata marcou sua trajetória pela defesa do multilateralismo. Ele morreu aos 100 anos, no fim do ano passado, 22 dias antes da segunda posse de Trump.
Eduardo Graça/O Globo — São Paulo