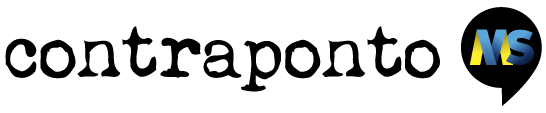Diante da observação do estrelado jornalista Dante Filho, para quem o texto o agente secreto com chuteiras estaria “delirante” — e de que eu talvez eu esteja “tomando um medicamento muito forte” — e antes que algum outro colega levante a sobrancelha ou peça o VAR, convém deixar claro: não é invasão de área. Não fiz isso para disputar espaço nem para ameaçar o ganha-pão de cronistas esportivos tarimbados, como Antônio Neres e Fábio Dorta. Fiquem tranquilos, a grande área continua sendo de vocês. Eu apenas atravessei o meio-campo porque, gostemos ou não, a política já está num bate-bola danado faz tempo — e fingir que isso não acontece seria um exercício de autoengano.
A crônica cujo gancho foi a conquista do Globo de Ouro por um ator brasileiro não nasceu de um lampejo criativo nem de oportunismo temático. Ela nasceu da memória. De estrada percorrida. De quem viu, ouviu e aprendeu cedo que futebol nunca foi apenas futebol, assim como política nunca foi apenas discurso. Um sempre serviu ao outro — às vezes como distração, às vezes como anestesia, às vezes como atalho.
Mas também não sou um estranho no ninho. Comecei, também, como plantonista esportivo da Rádio Difusora PR-I 7, em Campo Grande, no início dos anos 1970. Microfone aberto, café ralo, resultados dos jogos Brasil afora chegando aos borbotões, paralelamente à narração da voz inconfundível de J. Aguilar, direto do Morenão, e a obrigação de falar rápido, pensar rápido e errar pouco. Depois, uma temporada curta, mas decisiva, como repórter de campo na LEDA, pela Rádio Clube de Dourados. Foi pouco tempo, é verdade. Mas o suficiente para entender que o futebol é uma aula prática sobre poder: quem manda, quem obedece, quem vira bode expiatório e quem fica com a glória.
Aquilo foi trampolim. Mais tarde, já nos anos 1990, me estabilizei no jornalismo político, imaginando — como tantos outros — que o país tinha aprendido alguma coisa com os próprios tropeços. Hoje, olhando para trás, a sensação é desconfortável: andamos a passos largos para trás. No futebol e, sobretudo, na política.
E a comparação com os anos 1970 ajuda a entender o tamanho do retrocesso. Naquele tempo, com todas as sombras da ditadura militar, o Brasil ainda produzia grandeza. No futebol, tínhamos Pelé & Cia. Não havia discussão, marketing ou narrativa salvadora. Eles entravam em campo e resolviam. Ponto. Um país inteiro se reconhecia ali, gostasse ou não do regime.
Na política, mesmo sob autoritarismo, ainda circulavam estadistas. Juscelino Kubitschek, já fora do poder, seguia como referência concreta de projeto nacional. Leonel Brizola, no exílio, mantinha uma ideia clara de país, capaz de mobilizar paixões e ódios, mas sempre apontando para algum horizonte. Havia embate, havia risco, havia pensamento grande. O Brasil discutia para onde queria ir.
Hoje, o contraste é quase constrangedor. No futebol, vivemos de esperança reciclada e salvadores importados. Na política, o cenário é ainda mais árido. Lula governa nos estertores de uma trajetória histórica, mais como símbolo do que como construtor de futuro. Bolsonaro, preso, encerra sua participação nesse processo não como líder, mas como advertência. E entre um e outro, abre-se um vazio que nem discurso nem marketing conseguem preencher.
Confesso: nem com a lupa que meu compadre Antônio Tonanni me deixou de herança consigo enxergar alguma liderança para um futuro próximo. Não há estadistas em formação, não há projeto consistente, não há sequer uma geração claramente identificável. O que se vê são aventureiros, carreiristas, oportunistas de ocasião, gente que confunde liderança com algoritmo e engajamento com gritaria.
Talvez essa seja a diferença mais cruel entre ontem e hoje. Nos anos 1970, o autoritarismo precisava de estratégia, narrativa e algum grau de sofisticação. O futebol era usado para distrair enquanto se governava — mal ou bem, governava-se. Hoje, a política parece ter desistido de governar e passou a terceirizar sentido, convocando o futebol para preencher o vazio deixado pela ausência de ideias.
É aí que o “agente secreto com chuteiras” faz todo sentido. Não como teoria conspiratória, mas como sintoma. Quando um país volta a depositar no futebol a esperança de redenção nacional, é porque faltam figuras capazes de oferecer futuro fora do gramado. Não é novidade histórica. A novidade é a pobreza do elenco fora das quatro linhas, como dizia o “mito” encarcerado.
Por isso, quando escrevo cruzando futebol e política, não estou brincando de cronista esportivo nem tentando mudar de área. Estou apenas juntando peças de um mesmo tabuleiro que conheço há décadas. Como leitor assíduo de Nelson Rodrigues, aprendi que o futebol revela o caráter nacional. Da mesma forma que lendo ou vendo Paulo Francis direto de Nova York, nos telejornais da Rede Globo Paulo, aprendi que atravessar campos cobra um preço, mas preserva a dignidade intelectual.
No fundo, continuo fazendo o de sempre: tentando entender o poder onde ele se manifesta. Ontem, ele se escondia melhor. Hoje, se exibe. Ontem, precisava de metáfora. Hoje, dispensa sutileza. Regredimos até na capacidade de disfarçar.
Se isso incomoda, paciência. Não é invasão de área. É memória entrando em campo — e memória, no meu caso, nunca jogou na retranca.